Artículos
Qualidade de vida de estudantes de Educação Física da Universidade de Brasília, Brasil
Resumo: Qualidade de vida (QV) se relaciona à satisfação com a vida, saúde e bem-estar. O estudo investigou a QV e fatores associados em estudantes de educação física (EF) de uma universidade pública na capital do Brasil. Utilizou-se o questionário WHOQOL-Bref da OMS, complementado por dados sociodemográficos. Resultados foram expressos como média, desvio padrão e frequência relativa, e testes inferenciais avaliaram diferenças entre grupos, com p<0,05. Dos 220 respondentes, 66,8% referiu sua QV como "nem ruim nem boa”. O domínio ambiente teve menor escore médio, com percepção significativamente pior entre estudantes de menor renda (classe C), que moram em cidades periféricas, e de raça/cor parda. O domínio físico apresentou resultados significativamente piores para mulheres e para raça/cor (índio, amarelo ou outra). Relações sociais foram significativamente piores para raça/cor parda. A QV mediana dos estudantes, com resultados significativamente piores para o domínio ambiental e para o sexo feminino, de menor renda e raça/cor não branca, mostra a necessidade de incorporar a determinação social da saúde e QV às pesquisas. Universidades, enquanto ambientes formativos, articuladores de políticas, onde se estabelecem amplas relações sociais que podem, ou não, ser promotoras da saúde e QV, devem refletir e agir sobre o tema.
Palavras-chave: Promoção da saúde, Universidades, Estudantes de ciências da saúde.
Quality of life in physical education students at the University of Brasilia, Brazil
Abstract: Quality of life (QoL) is related to life satisfaction, health and well-being. The study investigated QOL and associated factors among physical education (PE) students at a public university in Brazil’s capital. The WHOQOL-Bref questionnaire from the WHO was used, complemented by sociodemographic data. Results were expressed as mean, standard deviation and relative frequency, and inferential tests evaluated differences between groups, with p<0.05. Of the 220 respondents, 66.8% referred to their QoL as "neither bad nor good". The environment domain had a lower average score, with a significantly worse perception among lower-income students (class C), who live in peripheral cities, and of brown race/color. The physical domain showed significantly worse results for women and for race/color (Indian, yellow or other). Social relationships were significantly worse for brown race/color. Median QoL of students, with significantly worse results for the environmental domain and for females, with lower income and non-white race/color, shows the need to incorporate the social determination of health and QoL to research. Universities, as training environments, articulators of policies, where broad social relationships are established that may or may not be promoters of health and QoL, should reflect and act on the subject.
Keywords: Health promotion, Universities, Health occupations students.
Calidad de vida de estudiantes de Educación Física de la Universidad de Brasilia, Brasil
Resumen: La calidad de vida (QV) está relacionada con la satisfacción con la vida, la salud y el bienestar. El estudio investigó la QV y los factores asociados entre estudiantes de educación física (EF) en una universidad pública en la capital de Brasil. Se utilizó el cuestionario WHOQOL-Bref de la OMS, complementado con datos sociodemográficos. Los resultados se expresaron como media, desviación estándar y frecuencia relativa, y las pruebas inferenciales evaluaron las diferencias entre los grupos, con p<0,05. De los 220 encuestados, el 66,8% se refirió a su QV como "ni mala ni buena". El dominio medio ambiente tuvo un puntaje promedio más bajo, con una percepción significativamente peor entre los estudiantes de menores recursos (clase C), que viven en ciudades periféricas, y de raza/color marrón. El dominio físico mostró resultados significativamente peores para mujeres y para raza/color (indio, amarillo u otro). Las relaciones sociales fueron significativamente peores para mestizo/color. La QV mediana de los estudiantes, con resultados significativamente peores para el dominio ambiental y para el sexo femenino, con menores ingresos y raza/color no blanco, muestra la necesidad de incorporar la determinación social de la salud y de la QV a las investigaciones. Las universidades, como ambientes de formación, articuladores de políticas, y donde se establecen amplias relaciones sociales que pueden o no ser promotoras de salud y QV, deben reflexionar y actuar sobre el tema.
Palabras clave: Promoción de la Salud, Universidades, Estudiantes del Área de la Salud.
Introdução
Universidades são espaços de produção de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e formação profissional, mas também são locais onde pessoas se relacionam e vivenciam diversos aspectos de suas vidas cotidianas. Devem, portanto, se constituir como ambientes de experimentação, exploração e reflexão que favoreçam a formação humana e a construção de sociedades mais justas e saudáveis (Tsouros, Dowding, Thompson, & Dooris, 1998; Dooris, 2016).
O ambiente universitário é composto majoritariamente por jovens e a juventude é uma etapa da vida em que ocorre aumento da autonomia e da independência, somada à inerente vontade de experimentação, do desejo de aprovação pelos pares e da formação da identidade (Soares, Pereira, Canavarro, 2014). Ao entrar no ensino superior os estudantes passam a vivenciar responsabilidades acadêmicas e são expostos a novos desafios cognitivos, afetivos e sociais que afetam sua qualidade de vida (QV) e saúde (Oliveira, Santos, & Dias, 2016; Soares, Pereira, & Canavarro, 2014).
Saúde e QV são termos indissociáveis que abrangem uma multiplicidade de conceitos imbricados com o estado físico, psicológico, social e espiritual do indivíduo e sua relação com o ambiente, incluindo as construções sociais e culturais (Buss, Hartz, Pinto, & Rocha, 2020). Ambos os constructos apresentam, além da multidimensionalidade (englobam diferentes dimensões), as características da subjetividade (que se refere à percepção do indivíduo acerca de sua própria QV ou saúde) e da bipolaridade (podem apresentar tanto aspectos positivos quanto negativos) (Minayo, Hartz, & Buss, 2000; Buss et al., 2020).
Diante de tal complexidade e da necessidade de uma definição operacional, a QV foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (Fleck et al., 2000). De forma a ter um instrumento de avaliação da QV numa perspectiva transcultural, diferente de instrumentos específicos associados à determinada doença, agravo ou intervenção médica, pesquisadores de diferentes países participaram junto à OMS da elaboração do questionário World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) em sua versão completa, com 100 perguntas, e em sua versão breve (WHOQOL-Bref), com 26 questões (Fleck et al., 2000; Fleck, 2000).
No contexto universitário, avaliar e discutir a QV dos estudantes é fundamental tanto para o desenvolvimento individual quanto para a formação profissional, refletindo no desenvolvimento da própria sociedade onde esses profissionais irão atuar quando graduado (Oliveira, Santos, & Dias, 2016; Soares & Del Prette, 2015). Um estudo de abordagem qualitativa (Yang & Fan, 2017) revelou que a QV é percebida como um fator que influencia na aprendizagem dos universitários. Nessa perspectiva, merece especial atenção a QV dos estudantes de Educação Física (EF), considerando que são profissionais da área da saúde que atuarão diretamente na promoção da saúde e também na melhoria da QV da população, como prevê a legislação de formação do curso (Claumann et al., 2017; Langame et al., 2016; Souza, Inês, Paiva, Melo, & Rechenchosky, 2012). Não obstante, pesquisas recentes apontam elevadas frequências de estudantes universitários que apresentam percepções insatisfatórias da QV geral ou em algum domínio, sendo que, o domínio do meio ambiente tende a apresentar os piores escores de QV (Barros, Borsari, Fernandes, Silva, & Filoni, 2017; Langame et al., 2016; Chazan, Campos, & Portugal, 2015).
Tais constatações nos desafiam a refletir sobre a situação dos estudantes e o papel das universidades como espaços de formação cidadã e profissional e de ambientes promotores da saúde e da QV. Na perspectiva de contribuir com esse debate, o objetivo do presente foi investigar a QV e explorar os fatores sociodemográficos que influenciam essa percepção entre estudantes dos cursos de EF de uma universidade pública brasileira.
Metodologia
Realizou-se um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa com estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura em EF da Universidade de Brasília (UnB), Distrito Federal (DF), Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, parecer n. 1.347.305. Brasília é a capital do Brasil, composta por 19 regiões administrativas e municípios do entorno do DF com grande variabilidade socioeconômica, que utilizam sua rede de serviços.
A população do estudo foram os 725 estudantes com matrículas ativas nos cursos de licenciatura e bacharelado em EF da UnB no primeiro semestre de 2016. A amostra foi composta por turmas escolhidas aleatoriamente para serem visitadas. Inicialmente foram realizados contatos por e-mail com os professores visando buscar apoio e autorização para entrada do pesquisador em sala de aula. No dia e horário agendados, os pesquisadores compareceram à turma selecionada, apresentaram o estudo, seus objetivos e metodologia, e convidaram todos os alunos presentes a participarem da pesquisa. Após concordar em participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cada aluno recebeu um questionário sobre dados socioeconômicos, elaborado com base no questionário do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis de Universidades Federais brasileiras (FONAPRACE, 2011) e o questionário WHOQOL-Bref adaptado para português por (Fleck et al., 2000). Foram visitadas sete turmas e a amostra final foi composta por 220 estudantes presentes em sala de aula no momento da coleta de dados e que aceitaram participar voluntariamente do estudo.
O WHOQOL-Bref é um instrumento que compreende 26 questões, sendo as duas primeiras sobre a percepção geral da QV de vida e saúde e as outras 24 questões abrangem quatro domínios: o físico (sete questões sobre dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, uso de medicamentos e capacidade para o trabalho); o psicológico (seis questões sobre sentimentos positivos e negativos, pensar e aprender, memória e concentração, imagem corporal e espiritualidade); o de relações sociais (três questões sobre relações pessoais, suporte social e atividade sexual); e o de meio-ambiente (oito questões sobre segurança física e proteção, ambiente do lar, recursos financeiros, disponibilidade e qualidade de cuidados de saúde e sociais, oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, atividades de lazer, ambiente físico e transporte). Todas as questões têm cinco opções de respostas na escala Likert, que varia de um (muito insatisfeito/muito ruim) a cinco (muito satisfeito/muito bom). Os escores dos domínios foram transformados para uma escala linear de zero a 100 pontos, conforme a sintaxe proposta pelo WHOQOL group (Fleck et al., 2000).
No presente estudo as variáveis explicativas foram: sexo (masculino ou feminino); idade (≤19 anos ou ≥20 anos); raça/cor (branca, preta, parda ou outras); local de moradia (plano piloto ou cidades satélites); situação conjugal (com ou sem companheiro); trabalha (sim ou não); classe econômica (Classe A, B ou C) pelo critério da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP, 2014); e curso (bacharelado ou licenciatura).
Após devolvidos, os questionários foram checados para verificar inconsistências nas respostas; como nenhum dos participantes deixou de responder mais que 20% das questões não houve perdas amostrais (Fleck et al., 2000). Os dados foram analisados através de estatística descritiva com média, mediana, desvio padrão (DP) e frequências relativas (%). O teste Shapiro-Wilk foi usado para verificar a distribuição da normalidade dos dados. Na análise bivariada utilizou-se o teste-T e a ANOVA unidirecional com pós-hoc de Bonferroni para as variáveis que apresentaram distribuição normal, e o teste Mann-Whitney e Kruskal-Wallis com pós-hoc de Dunn para as variáveis não paramétricas. O teste Qui-quadrado foi utilizado para verificar diferenças entre as características sociodemográficas nos cursos de bacharelado e licenciatura em EF. O teste não-paramétrico de Friedman, com pós-hoc de Dunn, foi utilizado para comparar as médias dos domínios na amostra total. O nível de significância foi estabelecido em p≤0,05 e o software utilizado para análise foi o Pacote Estatístico para Ciências Sociais (versão 20.0).
Resultados e discussão
A amostra final foi composta por 220 estudantes dos cursos de EF, 105 (47,7%) do curso de bacharelado e 115 (52,3%) da licenciatura. A maioria (68,2%) era do sexo masculino, com idade média (DP) de 21,3 (±4,8) anos, solteiro (90,9%), não trabalhava (70,0%); sustentado pelos pais (71,8%) e pertencia à classe econômica B (72,3%). Da totalidade dos estudantes, 42,2% se autodeclararam pardo e 40,9% branco em relação a raça/cor da pele.
Ao responder à questão específica sobre QV geral, 66,8% dos estudantes referiram sua QV como "nem ruim nem boa”; 23,6% como "muito boa"; e 9,6% como “ruim” ou “muito ruim”. Ao responder à questão relacionada à saúde, 14,1% disseram estar “muito satisfeitos"; 58,2% estavam "satisfeitos"; 19,5% estavam “nem satisfeitos nem insatisfeitos”; e 8,2% estavam “insatisfeitos” ou “muito insatisfeitos”. Quando os escores dos quatro domínios da QV foram comparados, a análise de variância revelou diferença estatisticamente significativa entre os domínios (p<0,0001); com o teste pós-hoc de Dunn apontando que a mediana do domínio ambiental (59,4) é menor que a dos domínios psicológico (70,8), físico (71,4) e das relações sociais (75,0) como pode ser observado na Figura 1.
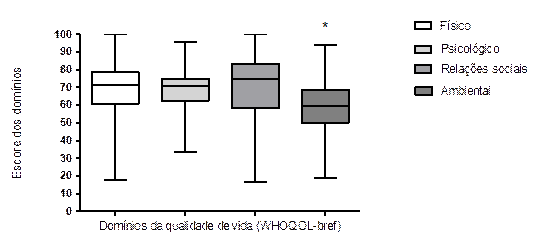
WHOQOL-bref, versão breve do World Health Organization Quality of Life; * Teste de Friedman com pós-hoc de Dunn, p<0,001
Em análise bivariada prévia, na qual se avaliou as diferenças entre as características sociodemográficas dos estudantes por curso de licenciatura e bacharelado, verificou-se que apenas a variável raça/cor apresentou diferença estatisticamente significativa: do percentual de estudantes (13%) que se auto atribuiu a raça/cor preta, a maioria (75%) estava matriculado no curso de licenciatura (p=0,044).
A tabela 1 mostra a comparação dos escores de cada domínio em relação às características sociodemográficas e tipo do curso. Pontuações significativamente menores no domínio da saúde física foram encontradas para estudantes do sexo feminino (p=0,0082) e o grupo que se autodeclarou como raça/cor da pele outras (índio, amarelo e outras) (p=0,0221). No domínio das relações sociais os escores foram significativamente menores para estudantes da raça/cor da pele pardos (p=0,0008). No domínio ambiental os escores foram significativamente mais baixos para estudantes que se autodeclararam pardos (p=0,0121), moravam nas cidades satélites (p<0,0001), não trabalhavam (p=0,0126) e pertenciam a classe econômica C (p<0,00001). O tipo de curso, se licenciatura ou bacharelado, não influenciou os escores dos domínios da QV.
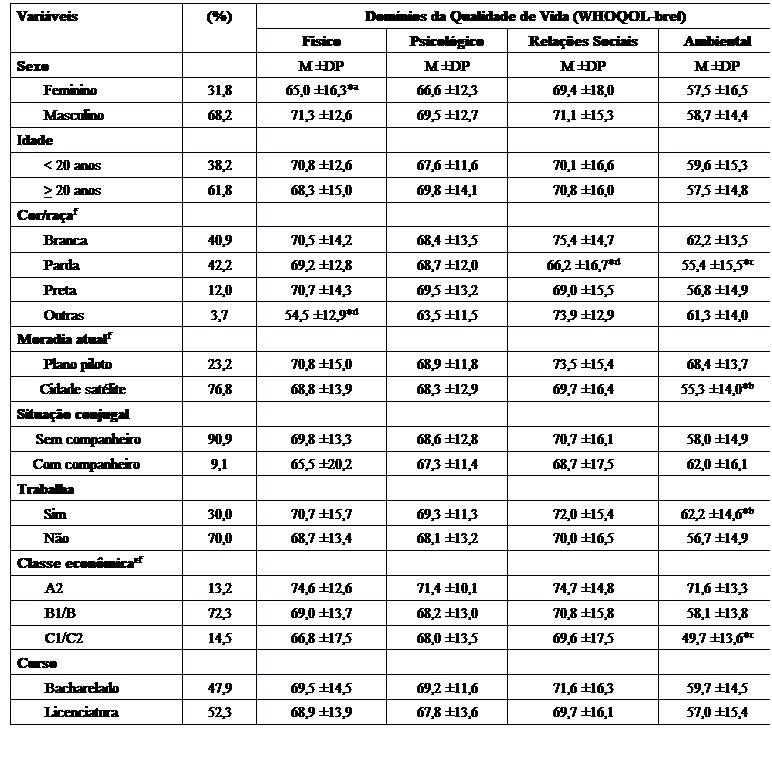
WHOQOL-bref, versão breve do World Health Organization Quality of Life; *p<0,05; a, Teste de Mann-Whitney; b, Teste T de Student; c, Teste ANOVA/pós-hoc Bonferroni; d, Teste Kruskal-Wallis/pós-hoc Bonferroni; e, Critério ABEP Brasil, 2014; f, variável com valores missing.
Os achados desse estudo revelam que os estudantes de EF apresentaram escores significativamente mais baixos para o domínio ambiental, com percepção significativamente pior entre estudantes de menor renda (classe C), que moram nas cidades satélites (zona periférica), que não trabalham e que são de raça/cor parda e preta. O menor escore no domínio do meio ambiente sugere que os universitários deste estudo podem encontrar dificuldades relacionadas à segurança física e proteção, recursos financeiros, disponibilidade e qualidade de cuidados de saúde e sociais, atividades de lazer, ambiente físico e transporte (Fleck et al., 2000) .
Percepções indicativas de escores baixo no domínio ambiental têm sido recorrente em outros estudos que também investigaram a QV de estudantes de EF (Claumann et al., 2017; Costa, Leão, Batista, & Paes, 2015; Souza et al., 2012) e de outros estudantes de cursos da saúde (Chazan, Campos, & Portugal, 2015; Carleto et al., 2019) . Um estudo com estudantes de medicina de uma universidade pública do Rio de Janeiro também encontrou associação entre pior QV no domínio ambiental e renda ou classe econômica (Chazan et al., 2015) . No entanto, nenhuma das pesquisas com universitários de cursos da saúde realizou associações dos domínios da QV com raça/cor, embora esse mesmo estudo (Chazan et al., 2015) tenha identificado escores significativamente mais baixos em todos os domínios para estudantes cotistas (com menor poder aquisitivo com vistas à redução de desigualdades étnicas, sociais e econômicas).
Similar ao que ocorre em outras cidades, a delimitação territorial do DF obedece a uma estratificação de classes sociais, com concentração de pessoas mais abastadas em seu centro e com os mais pobres na periferia (Rodrigues, 2007). Por sua vez, as classes sociais mantêm uma relação histórica com questões de etnia reveladas pelo componente raça/cor (Muniz & Bastos, 2017). Tais distribuições territoriais acabam por reforçar a exclusão social, étnica e econômica a partir da iniquidade em relação ao transporte, saneamento, qualidade habitacional, engenharia urbana e disponibilidade ou acesso a serviços básicos e alimentos resultando em condições de meio ambiente desfavoráveis à QV nas periferias, mesmo quando estes cidadãos passam a ter acesso ao ensino superior (Minayo, Hartz, & Buss, 2000).
Tais evidências são indicativas de que a perspectiva de melhora da QV dos universitários deve centrar esforços em mudanças ambientais. Vale ressaltar que as percepções objetivas da QV e os aspectos desse domínio são muito sensíveis às variações socioeconômicas e têm forte relação com políticas públicas que lidam com as condições sociais e garantias das necessidades de sobrevivência e bem-estar (Minayo, Hartz, & Buss, 2000). Considerando que a melhoria das condições ambientais necessita de investimentos governamentais, e que o governo brasileiro congelou os investimentos públicos em saúde e educação e vem desinvestindo em diversas políticas públicas que contribuíam para redução das iniquidades no país, é provável que a QV da população universitária venha a piorar nos próximos anos (Instituto de Estudos Socioeconômicos, [INSEC], 2017).
Os resultados também revelam que o domínio psicológico apresentou o segundo pior escore entre os quatro domínios, sendo percebido de forma mais homogênea entre os acadêmicos de EF, sem apresentar nenhuma diferença significativa nas variáveis analisadas. As questões avaliadas dizem respeito aos sentimentos positivos e negativos, pensar e aprender, memória e concentração, imagem corporal e espiritualidade (Fleck et al., 2000). Outro estudo realizado com estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura em EF também encontrou resultados similares para o domínio psicológico (Claumann et al., 2017). Em adição, pesquisa com 84 estudantes de um curso da área da saúde da UnB apontou o domínio psicológico como o pior escore da QV. Os autores reportaram que 95,2% desses acadêmicos apresentaram sentimentos negativos (mau humor, desespero, ansiedade e depressão) e, destes, 50% experimentaram esses sentimentos frequentemente, muito frequentemente ou sempre (Bampi, Baraldi, Dirce, Araújo, & Campos, 2013).
São necessários mais estudos para explorar aspectos relativos aos efeitos da vida acadêmica na QV psicológica dos estudantes, mas é relevante que as universidades estejam atentas à aspectos de cobranças e estresse excessivos, e desenvolvam programas para a saúde mental dos universitários levando em consideração as várias etapas da formação curricular (Oliveira et al., 2016; Dooris et al., 2016; Soares & Del Prette, 2015).
Outro aspecto que merece destaque é que a maior parte das pesquisas com estudantes universitários evidencia melhores resultados de QV nos domínios físico e das relações sociais (Carleto et al., 2019; Costa, Leão, Batista, & Paes, 2015; Claumann et al., 2017). No presente trabalho, estudantes que se autodeclararam pardos e pretos apresentaram piores escores para relações sociais que seus pares de raça/cor branca ou outras (índio, amarelo ou outra); mas esses últimos (os pertencentes a categoria outras) apresentaram menores escores de QV no domínio físico. Embora estudos recentes investigando os domínios da QV por raça/cor em universitários dos cursos da saúde não tenham sido identificados, o presente estudo aponta que raça/cor, de forma independente à renda, afeta aspectos de como diferentes grupos vivenciam as relações pessoais, o suporte social e a atividade sexual.
Chama a atenção que a maioria dos alunos que se autodeclarou preto estava matriculado no curso de licenciatura; e que a frequência dessa raça/cor nos cursos de EF da UnB é levemente superior (12,0%) que o reportado pela pesquisa com estudantes de Universidade Federais públicas brasileiras (9,8%) (FONAPRACE, 2016). Nessa perspectiva, é importante que estudos acompanhem o impacto dos programas de cotas raciais implantados nas universidades públicas, bem como a distribuição desses alunos pelos diferentes cursos, e acessem como estão se dando as relações sociais e a integração desses alunos com seus pares e professores (Weller, 2007).
No domínio físico da QV, os estudantes de EF da UnB do sexo masculino apresentaram maiores escores. Tal resultado também é corroborado por outro estudo com estudantes de Medicina (Miranda et al., 2020). As questões relativas a esse domínio relatam a percepção dos estudantes sobre dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, uso de medicamentos e capacidade para o trabalho (Fleck et al., 2000). Embora dados do perfil dos estudantes de graduação apontem que atualmente a maioria (~53%) da população universitária é feminina, é importante destacar que, dentre os cursos da saúde, EF e medicina apresentam maioria de estudantes homens (FONAPRACE, 2016). Diferenças por sexo devem ser aprofundadas em futuros estudos, principalmente diante da ampliação do acesso feminino à universidade. Em adição, há que se considerar que as demandas domiciliares, em geral, ainda recaem sobre o sexo feminino e que, quando somadas à desqualificação da ocupação (ocupar cargos que não necessitam do nível de instrução alcançado) e à desigualdade salarial vivenciadas por mulheres no mundo do trabalho, podem estar levando as universitárias a apresentar piores resultados no domínio físico da QV (Alves, 2018; Costa, 2018).
Os resultados do presente estudo apontaram que a maioria dos estudantes avaliaram sua QV geral como “nem ruim nem boa”, mas estão satisfeitos com sua situação de saúde. Esses achados indicam uma melhor percepção com a situação de saúde do que com a QV, sendo importante considerar que a QV é um conceito mais abrangente que, entre várias facetas, incorpora o estado de saúde na sua avaliação (Fleck et al., 2000). Outro estudo realizado com estudantes da mesma Universidade (Bampi et al., 2013) apontou melhores percepções sobre a QV e saúde entre seus estudantes: 71,5% dos acadêmicos consideram sua QV geral “boa” ou “muito boa” e 70,2% estavam “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com sua saúde; e, entre alunos dos cursos da saúde, a maioria dos estudantes avaliaram sua QV como “boa” (58,5%), e estão “satisfeitos” com sua saúde (53,4%).
O aumento significativo de pesquisas acerca da QV dos universitários nas últimas décadas indica a potencialidade que as universidades têm como espaço promotor da saúde, podendo (ou não) influenciar de modo favorável a QV e a saúde dos seus membros e da sociedade em geral (Dooris, 2016; Dooris et al., 2016). No entanto, parece que, em algumas situações, a estrutura curricular e/ou o ambiente acadêmico podem estar afetando negativamente a QV entre o início e o final de alguns cursos; ou, ao menos, não contribuem para a melhora da QV de seus estudantes (Sonati et al., 2016; Yang & Fan, 2017).
Haja vista que os estudantes passam grande parte do dia nas mediações da universidade e reconhecendo a potencialidade que esses espaços apresentam na disseminação de vivências e conhecimentos promotores de saúde e QV, torna-se importante refletir sobre essa questão. Por exemplo, estudo com alunos do curso de medicina na UnB constatou que 70,3% dos estudantes alegaram a falta de oportunidades de lazer como um aspecto prejudicial à QV e outro estudo reportou diminuição da prática de atividade física após 18 meses de entrada na universidade (Bampi et al., 2013; Sonati et al., 2016). Tais resultados apontam que as universidades não estão agregando mudanças positivas nos hábitos associados à atividade física e lazer dos estudantes ou ainda, pelo contrário, está dificultando a manutenção de estilos de vida mais saudáveis (Versiani et al., 2014; Sonati et al., 2016).
Considerando a especificidade da atuação dos profissionais de saúde – em particular da EF – nas questões referentes à QV das populações, faz-se necessário compreender os processos pelos quais os estudantes passam durante sua formação acadêmica que afetam a QV e que, provavelmente, irão influenciar suas práticas enquanto futuros profissionais. A partir dos diferentes aspectos associados à QV reportados na literatura, torna-se fundamental reconhecer suas associações com os processos de formação em saúde, pois essa compreensão pode contribuir para a organização administrativa e curricular dos cursos e das universidades (Tsouros et al., 1998; Holt, Monk, Powell, & Dooris, 2015).
Quando considerada a abordagem ampliada de saúde a que o presente estudo se alinha - que entende a promoção da saúde como um processo centrado no ambiente e que destaca a importância da capacitação comunitária para atuar na melhoria de sua saúde e QV (Tsouros et al., 1998) – percebe-se a necessidade de que as universidades busquem influenciar positivamente a vida e a saúde de toda comunidade acadêmica, mediante vivências de experimentação e exploração que favoreçam a construção de uma cultura de saúde e a adoção de estilos de vidas saudáveis (Dooris, Wills, & Newton, 2014; Tsouros et al., 1998). Estudantes e profissionais da área da saúde são agentes centrais nesse processo de deflagração das transformações culturais em saúde e QV (Minayo et al., 2000; Buss et al., 2020).
Nessa direção, vale abrir um parêntese e ressaltar que o contexto sanitário (de pandemia da Covid-19) e sócio-político brasileiro (de austeridade fiscal e desfinanciamento de políticas essenciais como as da saúde, educação, renda mínima e dispositivos de incentivo de mudanças na reorientação da formação) (INESC 2020; Nogueira, Rocha, & Akerman, 2021), repercutem fortemente e negativamente nas condições das universidades, afetam diretamente as políticas de apoio aos discentes e a QV dos estudantes (Da Silva, Selvati, Ramos,Teixeira, Conceição, 2020).
Alinhado à perspectiva ampliada de saúde, é importante destacar dificuldades e limitações envolvidas nos processos de operacionalização da análise de constructos complexos como a QV, o que, necessariamente, implica numa simplificação do fenômeno (Buss et al., 2020). Estudos sobre o tema da QV a partir do campo da saúde tendem a ser fundamentados pela lógica das ciências naturais ou, mais precisamente, da bioestatística, na qual prevalece a objetivação visando à quantificação dos fenômenos, mesmos daqueles que não se submetem à mensuração numérica, como a “qualidade” (Bosi & Mercado, 2004). Assim, não é de se estranhar que o WHOQOL seja um dos questionários mais utilizados para avaliar a QV, a despeito de a “qualidade” ser um conceito polissêmico e um fenômeno multidimensional (Minayo et al., 2000; Buss et al., 2020).
Não foram localizadas análises ou reflexões epistemológicas acerca das limitações conceituais da QV definida a partir do grupo de experts de diferentes culturas convocado pela OMS (Fleck et al., 2000). Faz-se necessário avançar na compreensão de que os componentes mais relevantes da QV estão além dos aspectos sanitaristas ou médicos, apesar de pouco considerados pelo setor saúde (Buss et al., 2020; Minayo et al., 2000). Cientes desses limites, há que se destacar como positiva, ao utilizar o WHOQOL, a possibilidade de comparabilidade da QV em diferentes populações, incluindo a identificação dos domínios físicos, psicológicos, sociais e ambientais, esse último consistentemente apresentando os piores resultados entre os estudos. Diversos autores apontam ainda a validação internacional, inclusive no Brasil (Fleck et al., 2000; Skevington, 2002), a facilidade de aplicação, sendo rápido e autoexplicativo, e a possibilidade de comparações transculturais e entre diferentes idades (Skevington, 2002; Cummins, 1995) como pontos positivos deste questionário.
Não obstante, diferentes análises estatísticas empregadas na produção dos resultados das pesquisas dificultam comparações diretas e ainda, em alguns casos, são realizadas de forma equivocada em relação ao método recomendado. A inexistência de uma pontuação de corte para classificação da QV dos sujeitos avaliados também representa um problema para a interpretação dos dados. Cummins (1995) sugeriu que escores >70% fossem considerados como índices de bem-estar para QV, no entanto, essa classificação ainda é pouco utilizada na literatura. A utilização de escalas, cujos domínios são agregados em pontuação máxima de 0 a 100%, representam um importante passo na avaliação da QV (Chazan, Campos, & Portugal, 2015; Cummins, 1995).
Considerações finais
O presente estudo identifica questões preocupantes na QV entre estudantes universitários dos cursos de EF da Universidade de Brasília, aspectos muitas vezes corroborados por pesquisas com outras populações de universitários, em particular de cursos da saúde. Tais fatores indicam a percepção da uma situação de vida preocupante - em especial em alguns grupos de risco como mulheres, negros e pardos, e pessoas com menor renda econômica – pois tal temática permeia os processos de formação profissional em saúde. Os resultados evidenciam a necessidade de reflexões sobre o papel e a estrutura da universidade enquanto ambiente formador de cidadãos e profissionais mais saudáveis e comprometidos com a defesa desse direito humano, a saúde. Embora o WHOQOL-Bref seja traduzido e validado no Brasil, é importante considerar limitações inerentes à aplicação de questionários para avaliar aspectos complexos como a QV em diferentes populações. Os estudos sobre a QV devem, cada vez mais, buscar abarcar os macrodeterminantes dos processos de forma a favorecer a produção de evidências contextualizadas que permitam desenvolver estratégias de promoção da saúde e de melhoria das condições de vida com foco no enfrentamento dos problemas identificados e na equidade.
Referências
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa- Abep (2014). Critério de Classificação Econômica Brasil.
Alves, F. A. da. (2018). Mulher, trabalho e família: os impactos do trabalho na subjetividade da mulher e em suas relações familiares. Revista Da Graduação Em Psicologia Da PUC Minas, 3(6), 434–452.
Bampi, L. N. da S., Baraldi, S., Dirce, G., Araújo, M. P. de & Campos, A. C. de O. (2013). Qualidade de Vida de estudantes de Medicina da Universidade de Brasília. Revista Brasileira de Educação Médica , 37(2), 217–225.
Barros, M. J. de, Borsari, C. M. G., Fernandes, A. de O., Silva, A. & Filoni, E. (2017). Avaliação da qualidade de vida de universitários da área da saúde. Revista Brasileira de Educação e Saúde, 7(1), 16–22. https://doi.org/10.18378/rebes.v7i1.4235
Bosi, M. L. M. & Mercado, F. J. (2004). Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: Editora Vozes.
Buss, P. M., Hartz, Z. M. de A., Pinto, L. F. & Rocha, C. M. F. (2020). Promoção da saúde e qualidade de vida: uma perspectiva histórica ao longo dos últimos 40 anos (1980-2020). Ciencia e Saude Coletiva, 25(12), 4723–4735. https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.15902020
Carleto, C. T., Cornélio, M. P. M., Nardelli, G. G., Gaudenci, E. M., Haas, V. J. & Pedrosa, L. A. K. (2019). Saúde e qualidade de vida de universitários da área da saúde. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde No Contexto Social, 7(1), 53–63. https://doi.org/10.18554/refacs.v7i1.2966
Cecília De Souza Minayo, M., Maria De Araújo Hartz, Z. & Buss, P. M. (2000). Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Ciência & Saúde Coletiva, 5(1), 7–18.
Chazan, A. C. S., Campos, M. R. & Portugal, F. B. (2015). Qualidade de vida de estudantes de medicina da UERJ por meio do Whoqol-bref: uma abordagem multivariada. Ciencia e Saude Coletiva, 20(2), 547–556. https://doi.org/10.1590/1413-81232015202.05182014
Claumann, G. S., Maccari, F. E., Ribovski, M., Pinto, A. de A., Felden, É. P. G. & Pelegrini, A. (2017). Qualidade de vida em acadêmicos ingressantes em cursos de educação física. Journal of Physical Education (Maringa), 28(1), 2811–2824. https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v28i1.2824
Costa, B., Leão, N., Batista, G. & Paes, P. (2015). Quality of life, stages of behavioral changes and physical activity level of Physical Education students. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, 20(5), 476-482. https://doi.org/10.12820/rbafs.v.20n5p476
Costa, F. A. da. (2018). Mulher, trabalho e família: os impactos do trabalho na subjetividade da mulher e em suas relações familiares. Pretextos - Revista Da Graduação Em Psicologia Da PUC Minas, 3(6), 434-452. Recuperado de http://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/15986
Cummins, R. A. (1995). On the trail of the gold standard for subjective well-being. Social Indicators Research, 35, 179–200. https://doi.org/10.1007/BF01079026
Dooris, M. (2016). Perspectivas internacionales sobre los entornos saludables: reflexiones críticas, innovaciones y nuevas direcciones. Global Health Promotion, 23(1), 112-114 https://doi.org/10.1177/1757975916641252
Dooris, M., Farrier, A., Doherty, S., Holt, M., Monk, R. & Powell, S. (2016). The UK Healthy Universities Self-Review Tool: Whole System Impact. Health Promotion International, 32(3), 448-457. https://doi.org/10.1093/heapro/daw099
Dooris, M., Wills, J. & Newton, J. (2014). Theorizing healthy settings: A critical discussion with reference to Healthy Universities. Scandinavian Journal of Public Health, 42(July), 7–16. https://doi.org/10.1177/1403494814544495
Fleck, M. (2000). O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100): características e perspectivas. Ciência e Saúde Coletiva, 5(1), 33–38.
Fleck, M. P., Louzada, S., Xavier, M., Chachamovich, E., Vieira, G., Santos, L. & Pinzon, V. (2000). Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-bref.” Revista de Saúde Pública, 34(2), 178–183. Retrieved from https://www.fsp.usp.br/rsp
FONAPRACE. (2011). IV pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das Instituições Federais de Ensino brasileiras. Brasília.
FONAPRACE. (2016). IV pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das Instituições Federais de Ensino brasileiras. Uberlândia.
Holt, M., Monk, R., Powell, S. & Dooris, M. (2015). Student perceptions of a healthy university. Public Health, 129, 674–683. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.03.020
INESC. Instituto de Estudos Socioeconômicos (2017). Orçamento 2017 prova: teto dos gastos achata despesas sociais e beneficia sistema financeiro. Brasília, DF: INESC. https://cutt.ly/2vjILua
Langame, A. de P., Chehuen, J. A. N., Melo, L. N. B., Castelano, L. M., Cunha, M. & Ferreira, R. E. (2016). Qualidade de vida do estudante universitário e o rendimento acadêmico. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, 29(3), 313–325.
Minayo, M. C. de S., Hartz, Z. M. de A. & Buss, P. M. (2000). Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Ciência e Saúde Coletiva, 5(1), 7–18.
Miranda, I. M. M., Tavares, H. H. F., Silva, H. R. S. D., Braga, M. S., Santos, R. D. O. & Guerra, H. S (2020). Quality of Life and Graduation in Medicine. Revista Brasileira de Educação Médica, 44(03), e086. https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.3-20200068
Muniz, J. O. & Bastos, J. L. (2017). Classificatory volatility and (in)consistency of racial inequality. Volatilidade classificatória e a (in)consistência da desigualdade racial. Cadernos de saude publica, 33(Suppl 1), e00082816. https://doi.org/10.1590/0102-311X00082816
Nogueira, J., Rocha, D. G. & Akerman, M. (2021). Políticas públicas adoptadas en la pandemia de la COVID-19 en tres países de América Latina: contribuciones de la Promoción de la Salud para no volver al mundo que existía. Global Health Promotion, 28(1), 117–121. https://doi.org/10.1177/1757975920977837
Oliveira, C. T. de, Santos, A. S. dos & Dias, A. C. G. (2016). Expectativas de universitários sobre a universidade: sugestões para facilitar a adaptação acadêmica. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 17(1), 43–53.
Rocha, E. (2008). Universidades promotoras de saúde. Revista Portuguesa de Cardiologia , 27(1), 29–35.
Rodrigues, A. M. (2007). Desigualdades socioespaciais - a luta pelo direito à cidade. Cidades, 4(6), 73–78.
Skevington, S. M. (2002). Advancing cross-cultural research on quality of life: observations drawn from the WHOQOL development. Quality of life research, 11(2), 135-144. https://doi.org/10.1023/a:1015013312456
Soares, A. B. & Del Prette, Z. A. P. (2015). Habilidades sociais e adaptação à universidade: Convergências e divergências dos construtos. Analise Psicologica, 33(2). https://doi.org/10.14417/ap.911
Soares, A. M., Pereira, M. & Canavarro, J. P. (2014). Saúde e qualidade de vida na transição para o ensino superior. Psicologia, Saúde & Doenças, 15(2), 356–379. https://doi.org/10.15309/14psd150204
Sonati, J. G., Vilarta, R., Maciel, E. da S., Modeneze, D. M., Vilela, G. de B. J., Quaresma, F. R. P. & Martino, M. M. F. de. (2016). Inclusão na universidade: impacto na qualidade de vida e na atividade física. Revista CPAQV, 8(1), 1–7.
Souza, L. A. d, Inês, L. L., Paiva, T. A., Melo, J. G. de & Rechenchosky, L. (2012). Qualidade de vida de acadêmicos de educação física: ingressantes e concluintes. Coleção Pesquisa Em Educação Física, 11(5), 129–136.
Tsouros, A. D., Dowding, G., Thompson, J. & Dooris, M. (1998). Health promoting universities: concept, experience and framework for action. Copenhagen: World Health Organization.
Versiani, D., Gonçalves, C., Luana, I., Brito, C., Ferreira De Carvalho, M., Sampaio, C. A. & Palavras-Chave, I. (2014). Percepção sobre o Adoecimento entre Estudantes de Cursos da Área da Saúde. Revista Brasileira de Educação Médica, 39(1), 102–111.
Weller, W. (2007). Diferenças e desigualdades na Universidade de Brasília: experiências de jovens negras e suas visões sobre o sistema de cotas. Política & Sociedade, 11, 133–158.
Yang, H. G. & Fan, C.-J. (2017). The Perceived Effect of Quality of Life on College Learning Among Chinese Students. Journalism and Mass Communication, 7(6), 334–343. https://doi.org/10.17265/2160-6579/2017.06.005
Recepción: 17 Marzo 2022
Aprobación: 30 Junio 2023
Publicación: 01 Julio 2023


 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
